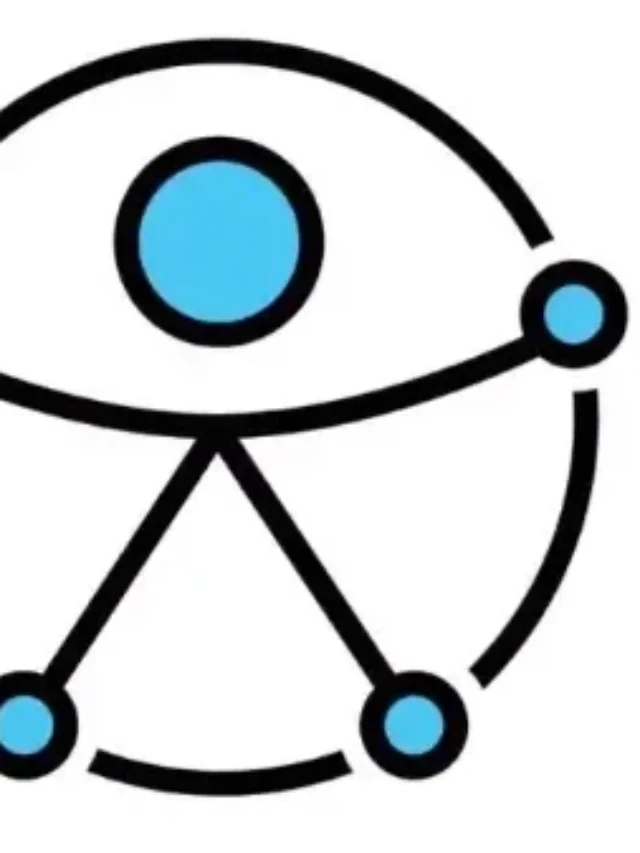Índice de Conteúdos
O termo neurodiversidade tem se tornado cada vez mais popularizado dentro da comunidade autista – formada por pessoas no espectro. Inicialmente cunhado pela socióloga australiana Judy Singer, o conceito se transformou, também, em um movimento de ativismo, especialmente no Brasil.
Embora ainda não seja tão usado por membros da comunidade do autismo – familiares e profissionais que atuam com TEA – são os autistas quem mais levantam o debate sobre o tema. Um deles é o jornalista e criador do podcast Introvertendo, Tiago Abreu, que escreveu o primeiro livro sobre o tema já publicado no país.
Entrevista com Tiago Abreu
Em entrevista para a Genial Care, Tiago Abreu comentou sobre o diagnóstico de TEA na vida adulta, o início e trajetória do Introvertendo e também sobre como o termo neurodiversidade tem sido presente na sua jornada de ativismo. Confira a entrevista na íntegra abaixo:
Gabriela Bandeira: Qual foi sua sensação ao descobrir o diagnóstico já na vida adulta?
Tiago Abreu:
Foi uma excelente sensação. Porque eu passei a vida inteira, principalmente a infância e adolescência sentindo que tinha alguma coisa, né. “O que há de errado comigo?”, eu lembro que eu perguntava isso comigo quando tinha, sei lá, uns 8 anos mais ou menos.
E chegar simplesmente à hipótese do autismo já fez mudar muitas coisas. Eu pude prestar atenção em características que eu nunca tinha parado para pensar, e desenvolver habilidades em outras questões.
Então, a sensação que eu tive no diagnóstico foi, como eu poderia dizer? Talvez leveza? Não sei, mas foi uma sensação boa.
G.B: O Introvertendo surgiu de uma ideia que vocês e os outros membros tiveram ao perceber que estavam juntos fazendo algo que muitas pessoas autistas têm dificuldade (a interação e comunicação social). Como você avalia a jornada desse projeto até aqui?
T.A:
Bom, o Introvertendo começou de uma forma muito amadora e foi uma coisa muito de eu puxando o pessoal “bora fazer, bora fazer”, mas até eu mesmo não tinha muito compromisso.
Nosso projeto original foi fazer um podcast de autistas. Era essa minha ideia, porque antes eu até já queria ter feito um podcast, sei lá, em 2013, 2014 e ocorreu que nunca tinha dado certo, meus amigos que não eram autistas nunca eram engajados para fazer e eu acabei aproveitando aquela oportunidade para criar uma produção.
Mas a gente não tinha objetivos. “Ah, a gente vai informar sobre autismo”, não existia nada disso. A gente estava fazendo mais por diversão. E eu acho que a jornada desse projeto até aqui foi muito nesse sentido de amadurecimento, de criar uma comunidade que se identifica com o nosso material e que tem uma expectativa e a gente produzir de acordo com essa expectativa.
Eu acho que nós amadurecemos tecnicamente também, porque teve toda a participação da empresa que eu trabalho produzindo o podcast. E tem o Introvertendo antes e depois deles, e isso se reflete na qualidade técnica, na montagem de pautas, nas escolhas de convidados, no processo de lançamento, na estética visual das capas dos episódios.
Então, há muito tempo nós não somos mais uma produção amadora. Apesar de que, às vezes, a gente faz uma coisa um pouco na diversão, mas não é como era no passado. Acho que a gente teve um salto técnico, um salto temático e a comunidade do autismo hoje tem uma expectativa em relação a “Ah, o que que o Introvertendo vai discutir”, pelo menos em relação a alguns temas, o pessoal nos cobra bastante.

G.B: Durante essa trajetória e entrada na comunidade autista, você também começou a participar de outros projetos e o debate sobre a neurodiversidade sempre fez parte das suas falas. Por que você considera esse tema tão importante?
T.A.:
Desde que eu entrei na comunidade do autismo, lá em 2013, 2014 mais ou menos, eu sempre estive mais entre autistas. Nunca estive muito perto dos familiares.
Quando eu estive perto dos familiares, de profissionais, eu notava uma desconexão muito grande entre temas de interesse, do que os autistas comentavam nas redes sociais e do que se fazia no ativismo local. E uma dessas concepções, termos que muitas vezes estava disseminado entre os familiares, profissionais e autistas, era o termo neurodiversidade, que era um termo muito popular no exterior.
E o meu interesse pelo tema neurodiversidade primeiro veio de um incômodo, uma inquietação, do que as pessoas estavam dizendo e interpretando sobre neurodiversidade. Porque quando eu tentava entender a neurodiversidade, cada um estava dizendo uma coisa diferente.
A partir do momento que eu comecei a compreender, eu pensei “poxa, tenho que falar mais sobre este assunto”. Porque, realmente, com a questão do idioma principal do inglês para o português, a gente tem algumas barreiras.
Então, do ponto de vista pessoal e prático, por isso considero importante. Mas tem um outro aspecto também que é que o termo neurodiversidade explica muito bem as fronteiras que existem entre parte dos autistas e os familiares, a distância que há entre eles é muito baixa, muito mais baixa do que a gente imagina.
Quando a Judy Singer propõe a ideia de neurodiversidade, ela propõe porque ela começa a enxergar traços de autismo na filha, começa a identificar traços de autismo na mãe que ela cuidava, como já era idosa e a própria Judy se vê com alguns traços do autismo. E aí ela começa a montar essa concepção de neurodiversidade sobre uma diferença que já não cabia nas categorias comuns de deficiência.
E eu percebo que, de lá pra cá – dos anos 1990 para cá – a ideia de neurodiversidade é a ideia que melhor combina com o processo que já ocorre aqui no Brasil, por exemplo, de familiares, de ativistas, que eram antes conhecidos como mães e pais de autistas que agora estão descobrindo ser autistas também.
Existem mais proximidades do que as pessoas imaginam. E a neurodiversidade, essa discussão, essa categoria que melhor explica esse fenômeno que, na minha concepção, vai ser mais forte na comunidade do autismo.
G.B.: Pode contar um pouco sobre a história da neurodiversidade e de como surgiu tanto o termo, de maneira conceitual, quanto o movimento de ativismo?
T.A.:
A neurodiversidade é um termo que foi criado pela socióloga australiana Judy Singer no final da década de 1990, baseado no trabalho de TCC dela que ela estudou um fórum na internet que chamava “Vida independente no espectro do autismo”, onde ela via interação de autistas, pessoas com TDAH e com outros diagnósticos e dentro dessa comunidade ela começou a conceituar a ideia de neurodiversidade.
Mas a ideia tinha uma conexão histórica com o surgimento do ativismo autista. No início da década de 1990, a gente podia falar que já existia, por exemplo, a Temple Grandin e depois tem o manifesto de Jim Sinclair, em 1993. Em que há, realmente, uma proposta de emancipação dos autistas não apenas como objeto de estudo, não apenas como sujeitos alvos de intervenção, mas também produtores de suas próprias falas, de seus próprios discursos, posicionamentos etc.
Então, a neurodiversidade, enquanto conceito, é essa ideia maior de que, enquanto existe a biodiversidade – que é a diversidade biológica entre os animais –, então também a existe a neurodiversidade – que é a diversidade neurológica da população humana e essa variedade é importante até para as próprias conquistas e para as próprias características que a gente tem da humanidade.
E a neurodiversidade teria essa ramificação de ativismo que, por exemplo, estaria bem ilustrada nos autistas, que é essa coisa pelo reconhecimento, pelo respeito e pela emancipação social dessas pessoas.
G.B.: E como o movimento e a discussão sobre neurodiversidade chegaram no Brasil?
T.A.:
A chegada da neurodiversidade no Brasil se dá de uma forma meio difusa. O primeiro registro que a gente tem mais popular falando em neurodiversidade e até em algumas pautas como o orgulho autista, vem da criação do MOAB (Movimento Orgulho Autista Brasil), em 2004, se não me falha a memória, mas que era uma organização formada por pais, por familiares, então não tinha tanto a pauta do ativismo autista, mas foi nesse momento que algumas pautas sobre neurodiversidade foram introduzidas.
No final dos anos 2000, e isso nos anos 2010, surge uma outra associação, que é a ABRAÇA – Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas Autistas –, que foi fundada por pais e depois começa a ter alguns dos primeiros ativistas autistas organizados em associações.
Ao mesmo tempo que tinha esse ativismo organizado institucionalmente, também foi nesse período que os primeiros autistas começaram a falar sobre autismo. Então a gente pode falar dos escritores Rodrigo Tramonte, Sophia Mendonça e até aqueles que depois fizeram outros tipos de materiais, como Marcos Petry que depois publicou livro, que é youtuber.
Mas a ideia de neurodiversidade esteve sempre um pouco difusa no ativismo autista. Não são todos os ativistas que falam sobre neurodiversidade. Há uma tendência em se falar de neurodiversidade quando esse ativismo é mais político, é mais institucionalizado, como por exemplo é o caso da ABRAÇA ou mais recentemente em que a discussão sobre o autismo tem alcançado outros patamares da sociedade.
Porque, para você conhecer as diferenças e conhecer as características das pessoas e discutir mais questões sociais sobre autismo, acaba que você precisa se alicerçar em algumas ferramentas analíticas da neurodiversidade. Porque ela está lado a lado com discussões sobre interseccionalidade, identidade e todas essas coisas estão ali naquele território das ciências sociais.
Então hoje em dia, por exemplo, se a gente discute autismo em mulheres, questão de gênero, sexualidade LGBTQIA +, se a gente fala sobre raça, sobre racismo etc, muitas dessas discussões também vão ser alinhadas com o ativismo de neurodiversidade.
E já que esse movimento muitas vezes prega uma emancipação da população autista. Hoje em dia os elementos da neurodiversidade estão se disseminando muito tranquilamente na comunidade do autismo.
É muito comum as pessoas usarem o termo neurotípico, por exemplo, que é um termo que vem um pouco dessa discussão sobre neurodiversidade e as pessoas têm o interesse de querer saber mais sobre o assunto. Então hoje eu diria que mesmo quem não tem um olhar muito favorável para a discussão sobre neurodiversidade começou a incorporar porque se tornou quase um senso comum dentro da comunidade do autismo.
G.B.: Você é autor do primeiro livro escrito no Brasil sobre o tema. Quando decidiu escrevê-lo e por quê?
T.A.:
Eu já tinha escrito um livro antes, que era o Histórias de Paratinga, que não era um livro sobre autismo, era um livro de outras atividades minhas no jornalismo. E eu sempre tive vontade de escrever também sobre autismo.
Mas eu não queria cair naquele enquadramento de quando a pessoa é diagnosticada com autismo e vai falar sobre as suas próprias experiências. Que é uma coisa que eu costumo chamar de o enquadramento experiência, é até um tema que vai virar do Introvertendo em junho, que é essa ideia de que a pessoa, por ter o diagnóstico de autismo, não tem nenhuma capacidade ou teria a impossibilidade de olhar o autismo sob um ponto de vista externo, fora das suas próprias experiências, não olhar o autismo como tópico geral.
Então eu já tinha recebido sugestões. “Ah, porque você não escreve um livro contando a sua história e tal?” e eu ficava “Meu Deus do céu”, sabe? Porque pra você escrever uma autobiografia, primeiro você tem que escrever bem e muitos desses livros são bem escritos, mas você também tem que ter uma história de vida interessante.
E aí quando alguém me fazia essa sugestão, eu pensava assim, eu não tenho uma história de vida interessante pra contar. Então é um desperdício escrever e tem livros que são sensacionais, por exemplo, “Olhe nos meus olhos”, do John Elder Robson, aquele livro é sensacional. Aquilo ali é uma autobiografia de autista como deve ser.
Com base nisso, eu sempre pensei que, se eu escrevesse um livro, ele abordaria o autismo sobre um tópico geral. Estava conversando com um amigo meu, que é o Willian Chimura, e falei com ele sobre um projeto de ficar anos trabalhando num livro que discutisse o autismo num contexto mais brasileiro. De pensar o autismo e fazer uma conexão entre as duas coisas.

Um livro que fosse um pouco mais original nesse sentido. Que a gente parasse de ficar se prendendo tanto ao pensar o autismo com o referencial estrangeiro que a gente tem e fazer essas conexões. O que seria algo bem trabalhoso levaria muitos anos.
E aí nessa conversa que a gente estava fazendo, pensando planos da vida etc e tal, ele fez a sugestão. Falou assim “Por que que você não escreve um livro de neurodiversidade para iniciantes? Porque é um tema que você estuda há muito tempo” E ele me deu meio que esse caminho, porque a outra produção ia levar muitos anos e eu achei a sugestão dele muito boa e pensei: “Por que não?”.
De imediato, eu lembrei da coletânea “Primeiros passos”, da editora brasiliense, e comecei a fazer as conexões. Em uma semana eu tinha o esqueleto do livro. Pelo menos os pontos e mais algumas coisas já desenvolvidas. O resto fluiu muito naturalmente.
Eu queria ousar e falar sobre o autismo do ponto de vista externo. Acho que isso seria uma contribuição de fato relevante e depois também porque eu vi a importância sobre o tema. Eu via que as pessoas tinham muita dificuldade de entender o que é neurodiversidade e que faltavam produções nacionais nesse sentido.
As produções estrangeiras que a gente tem hoje, no geral, elas se preocupam muito mais em aprofundar a discussão porque já tem artigo, já tem muita coisa sólida em inglês, mas aqui no Brasil precisava começar do início, né? E aí eu fiz esse livro introdutório sobre a neurodiversidade, pensando muito nesse sentido.
G.B.: Pode contar um pouco do seu processo de escrita e das pesquisas que fez antes de escrever o livro?
T.A.: Eu comecei a ler coisas que eram relacionadas com o tópico da neurodiversidade muitos anos antes. Mas a leitura mais aprofundada, de literatura mais técnica, eu fiz mais ou menos dois anos antes, de 2019 para 2020, por questão pessoal de entender mesmo.
Então eu tive muito contato, por exemplo, com livros que até extrapolavam a questão da neurodiversidade, discutiam o autismo de uma forma geral. Outra sintonia, por exemplo, o “NeuroTribes”, que são livros meio antagônicos, né? Assim, quem gosta, geralmente não gosta do outro.
Li o livro do Steven Kapp que é o do “Autistic Community and the Neurodiversity Movement” (A comunidade autista e o movimento da neurodiversidade, em português). Li o livro organizado, agora não lembro qual é o nome dos autores, mas é o “Neurodiversity studies: a critical paradigm” (Estudos sobre a neurodiversidade: um paradigma crítico”, que saiu em 2020.
E também li o livro da Judy Singer “Neurodiversity: the birth”, que saiu em 2017 e está disponível apenas como e-book. E foi lendo ele também que eu percebi o quanto que a Judy era apagada intencionalmente das discussões sobre neurodiversidade, mesmo sendo a criadora do termo.
Assim eu estava lendo muito essas coisas e estava com elas frescas na cabeça e falando o tempo todo sobre neurodiversidade, hiperfocado bem autisticamente como as pessoas da comunidade do autismo que são mais voltadas pro ativismo e são mais próximas de mim.
Então, quando eu recebi a sugestão para escrever o livro, foi muito automático. Eu já estava escrevendo artigos da universidade, no processo do mestrado, então todas as referências acabaram contribuindo para escrever o livro.
O meu processo de escrita foi super natural. Eu escrevi a maior parte do livro em uma semana, mas quem pensa assim “uma semana é pouquíssimo tempo”. Mas assim, eram horas escrevendo durante todos esses dias, né? Foi exatamente na virada do ano. Consegui um tempinho de folga no trabalho e escrevia horas e horas e horas e horas. Foi árduo, mas valeu bastante a pena.
G.B.: Como você enxerga a neurodiversidade dentro da comunidade autista?
T.A.: Eu percebo a neurodiversidade como um tema fundamental hoje em dia. Eu vejo que até as pessoas que torcem um pouco o nariz pra ideia de neurodiversidade tendem a interpretar que é um bom tema, só é mal utilizado.
Eu via mais resistência à neurodiversidade anos atrás. Hoje em dia é quase um consenso – poderia dizer quase – na comunidade autista, ou seja, entre os autistas. Não estou falando aqui de familiares, de profissionais, nem nada.
E aí, dentro disso você vai ter diferentes pontos. Tem alguém que vai ter uma visão mais radical do movimento do autismo, e vai ter gente que vai ter uma visão mais centrista, mais liberal, talvez. E aí as tensões ficam um pouco dentro desse caminho.
Se você é autista, e você encara que o autismo é uma doença, você vai ficar escanteado porque até os autistas que têm muita dificuldade e que se expressam na internet etc vão utilizar elementos da neurodiversidade, vão falar de alguma forma. Enfim, a neurodiversidade é o que sustenta, muitas vezes, a própria existência do ativismo autista.